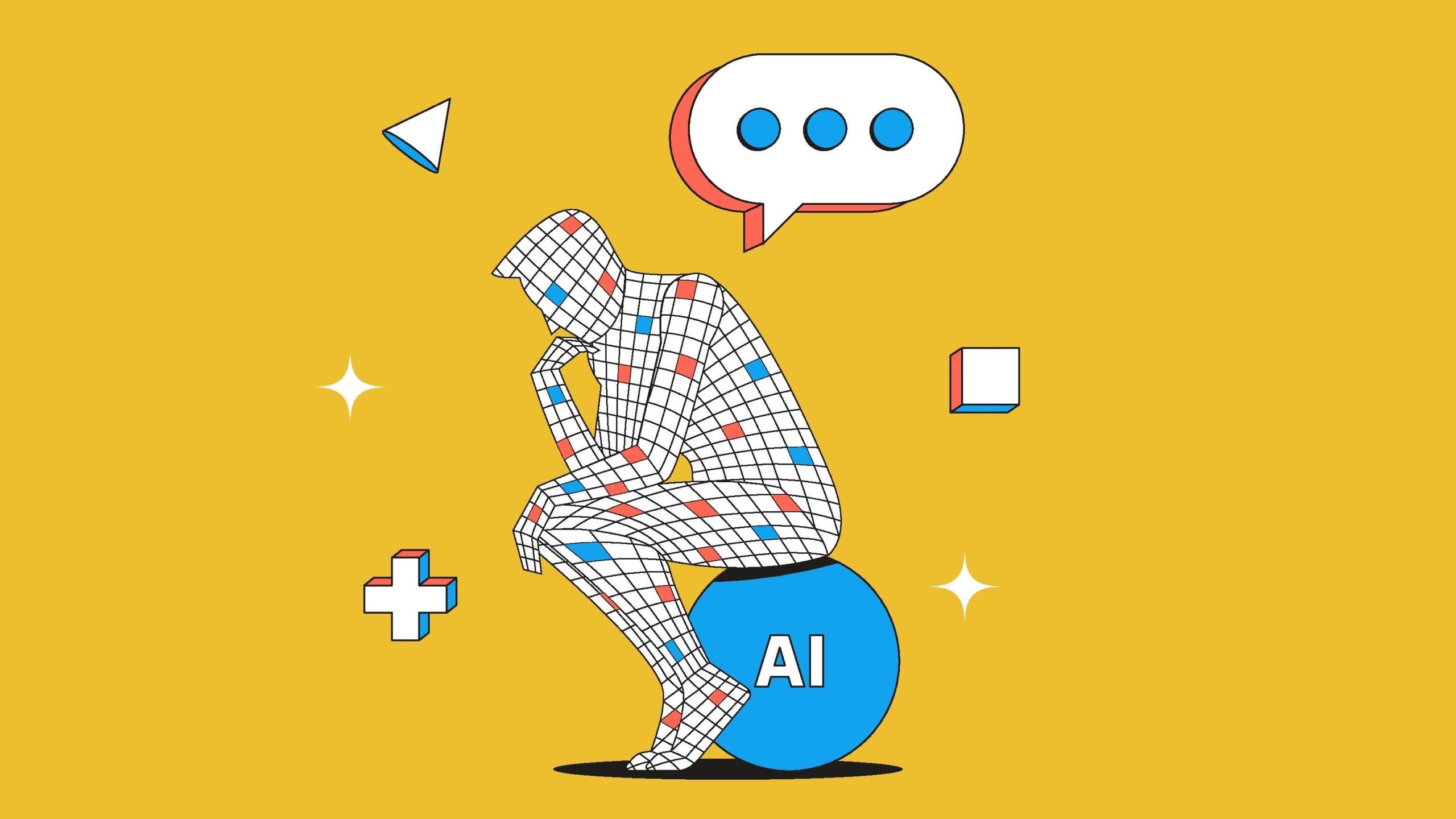
09 fev O valor do erro na era da inteligência artificial
A inteligência artificial erra. Inventa fatos, distorce sentidos e reforça injustiças. Falha no detalhe e, às vezes, no essencial. Ainda assim, existe um ponto decisivo. O erro da máquina tem potencial para educar o humano. A promessa de perfeição algorítmica seduz, mas a realidade impõe um choque pedagógico. “Errare humanum est”.
A frase em latim que significa “errar é humano” ganhou um complemento contemporâneo. Errar tornou-se também um espelho mecânico, capaz de devolver ao usuário algo que a cultura digital quase apagou. O valor do limite.
Convém colocar a conversa no lugar certo. “Alucinação” em modelos de linguagem descreve um fenômeno verificável, com métricas e benchmarks. No AI Index Report 2025, um dos principais referenciais acadêmicos do tema, elaborado pela Stanford University, o melhor desempenho reportado em taxa de alucinação no HHEM (sigla para Hughes Hallucination Evaluation Model) chega a 1,3%.
Alucinações e preconceitos automatizados tornam o uso ético da IA uma urgência civilizatória. (Fonte: Getty Images)
Em paralelo, a mesma fonte reporta um índice de fundamentação em evidências de 83,6%, um indicador que mede aderência a evidências e consequentemente menores chances de alucinações pela IA. Os números impressionam, mas também revelam um fato inconveniente. Mesmo sob engenharia rigorosa, a “verdade” permanece probabilística. A máquina opera por plausibilidade, e essa tem parentesco com o engano.
Essa constatação ganha densidade ética quando o erro sai do laboratório e entra no cotidiano. Em 2023, nos EUA, um advogado entrou com um documento em processo entre uma passageira e uma companhia aérea com citações construídas por IA e que jamais existiram.
O caso, citado com frequência em discussões sobre confiança em sistemas generativos, cristaliza o risco de precedentes jurídicos fabricados. A falha ali teve menos relação com “má fé” e mais com uma ilusão humana. A ideia de que a máquina, por exibir fluência, carrega autoridade.
A alucinação, nesse contexto, funciona como alerta público. Texto convincente pede verificação. E verificação pede responsabilidade humana.
O mesmo vale para vieses. O problema costuma surgir como se fosse defeito técnico. Na prática, ele revela um traço social. Dados históricos carregam decisões humanas, assimetrias e exclusões, e depois reaparecem em escala, com verniz matemático. O caso COMPAS (sigla do sistema norte-americano Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), já virou símbolo desse ciclo.
Sistemas de reconhecimento facial com erros maiores em minorias também expõem o mesmo mecanismo. O algoritmo aprende padrões. A sociedade escolhe quais padrões produz, registra e valida.
Dados revelam que, 57% dos adultos sentem pouco ou nenhum controle sobre o uso de IA em suas vidas. (Fonte: Getty Imagens)
Aqui há a primeira lição humanizadora. Falhas técnicas obrigam o retorno ao julgamento. Nenhum conjunto de dados substitui contexto. Nenhuma inferência substitui prudência. O segundo aprendizado aparece quando a tecnologia encontra o mundo físico.
A automação excessiva, especialmente em veículos, já produziu acidentes e uma cultura de complacência. O erro da máquina, nesse cenário, denuncia uma fraqueza humana. A facilidade cria descuido. A promessa de autonomia vira terceirização moral.
A tensão ética fica ainda mais clara quando se observa a distância entre especialistas e público. Em 2025, um estudo do Pew Research Center mostrou que 73% dos especialistas em IA enxergam benefícios pessoais e sociais no avanço da área, enquanto apenas 23% dos adultos nos Estados Unidos compartilham essa visão.
O mesmo relatório indica que o público tende a esperar mais dano do que benefício. Cerca de 43% projetam prejuízo pessoal, contra 24% que projetam ganhos. Essa diferença importa porque a ética nasce de experiência social, e ela inclui medo, vulnerabilidade e assimetria de poder.
O erro, então, deixa de ser ruído técnico e passa a ser sinal político. Quem paga o custo do engano é quem sofre o viés e quem arca com a decisão automatizada. Um algoritmo falha do mesmo modo para todos em termos estatísticos, mas os efeitos raramente se distribuem de modo equilibrado.
Esse panorama explica por que a ética da imperfeição se impõe. Ela parte de uma premissa simples.
A falha controlada existe e exige desenho responsável. Em vez de vender infalibilidade, líderes e equipes precisam construir processos que reconheçam erro como condição operacional e risco como variável de projeto.
Esse compromisso pede três movimentos concretos: auditorias éticas contínuas, humano no circuito e governança de uso. A própria percepção de controle do cidadão deveria entrar na equação. Em 2025, apenas 13% dos adultos relataram sentir muito controle sobre o uso de IA em suas vidas, enquanto 57% relataram pouco controle ou nenhum controle. A ética da imperfeição também serve para isso. Ela devolve agência ao usuário.
Há, ainda, um dado que amarra o argumento ao consumo. A IA já ocupa tarefas triviais. Mais de 60% dos adultos relataram uso de IA para buscar informação. Quando a tecnologia vira hábito, cada alucinação ganha peso cultural. Cada recomendação enviesada muda repertórios. Cada resposta “plausível” molda decisões.
A maturidade, portanto, pede uma inversão elegante. A ambição de perfeição algorítmica costuma virar fuga de responsabilidade humana. A ética da imperfeição faz o oposto. Ela assume limites, explicita riscos e constrói confiança por transparência, validação e disciplina.
A inteligência artificial jamais precisou parecer um deus. Ela precisa parecer o que de fato é. Um parceiro poderoso, falível, estatístico, dependente de contexto e de escolhas humanas. Quando a máquina erra, o humano recebe uma chance rara.
Reaprender a checar, a deliberar, a responder por consequências. A tecnologia avança, e a ética amadurece. Esse é o único progresso que merece o nome de civilização.


